O salto de um bancário para a linha de frente do humor político
Nascido em 29 de fevereiro de 1932, no Rio de Janeiro, Sérgio Jaguaribe — o Jaguar — morreu em 24 de agosto de 2025, aos 93 anos, na cidade onde cresceu, desenhou e provocou o poder por mais de meio século. Ele começou discreto, como funcionário do Banco do Brasil, e achou o traço próprio numa época em que desenhar contra os donos do poder podia custar caro.
O pontapé foi em 1952, na Manchete. As primeiras charges, ainda sob influência do francês-húngaro André François, mostravam um humor seco e um desenho que dispensava floreios. Jaguar testou formatos e públicos em revistas como Senhor, Revista Civilização Brasileira, Revista da Semana e no Pif-Paf, de Millôr Fernandes. No jornalismo diário, passou por Tribuna da Imprensa e Última Hora.
Na Última Hora, sob Samuel Wainer, aproximou-se de Tarso de Castro e Sérgio Cabral. Era o início da ditadura militar (1964-1985), e aquela redação reunia gente disposta a peitar o clima de medo com reportagem, ironia e charge. Jaguar percebeu cedo que o riso, quando bem calibrado, furava a couraça da censura e chegava onde a linguagem burocrática não alcançava.
O traço dele misturava economia de linhas, timing de piada e um olhar implacável para as contradições do dia a dia. Não era humor bonzinho. O alvo era claro: os abusos do poder, a hipocrisia, a burrice com crachá. Esse estilo moldou sua assinatura e preparou o terreno para o passo seguinte, aquele que mudaria a imprensa brasileira.

O Pasquim: a faísca que virou incêndio
Em 1969, Jaguar, Tarso de Castro, Sérgio Cabral, Millôr Fernandes, Ziraldo e uma turma de primeiro time criaram O Pasquim. O nome, inventado por Jaguar, já era uma estratégia de sobrevivência: “Como vão chamar a gente de pasquim mesmo, vamos usar o nome primeiro. Vão ter que inventar outros xingamentos”. O plano parecia modesto: um jornal de bairro, feito em Ipanema. Em poucos meses, virou um fenômeno nacional.
Com o financiamento de Murilo Reis, a operação ganhou fôlego. A tiragem saltou de 10 mil para mais de 200 mil exemplares semanais no início dos anos 1970. Em plena vigência do endurecimento político e de uma máquina de censura ativa, isso equivalia a um estádio lotado lendo, rindo e pensando junto.
O Pasquim não era só um pacote de boas piadas. Era um projeto de linguagem. Usava coloquialidade, gírias, trocadilhos, entrevistas longas e charges que explicavam a semana em um quadro. A redação tratava a notícia como conversa de botequim inteligente: próxima, direta, sem pompa. O país reconheceu ali um jeito de falar que a grande imprensa evitava.
Jaguar deu rosto a essa voz. Criou personagens, como o Sig, e emprestou desenho a séries que marcaram época, como os volumes de FEBEAPÁ — o “Festival de Besteiras que Assola o País”, de Sérgio Porto (o Stanislaw Ponte Preta). Era munição pesada: quando a narrativa oficial prometia ordem, as charges mostravam o absurdo.
O jornal virou ponto de encontro de artistas e intelectuais dissonantes. Passaram por lá Martha Alencar, Sérgio Noronha, Moacir Scliar, Newton Carlos, Chico Buarque, Caetano Veloso, Ferreira Gullar, Glauber Rocha, Cacá Diegues e muitos outros. A cada edição, uma frente cultural: música, cinema, literatura, futebol, política — tudo virava pauta e piada.
Veio a resposta do Estado. Em novembro de 1970, a polícia invadiu a redação e prendeu parte da equipe. A tentativa de silenciamento catapultou o jornal a outro patamar: O Pasquim virou símbolo de resistência civil. A marca ficou para sempre. Ler aquela semana era também um ato político.
Entre idas e vindas, censuras e apertos financeiros, Jaguar foi o único que ficou do primeiro ao último número. De 1969 a 1991, manteve a chama acesa, segurou crises e deu direção estética. Por isso ganhou apelidos que grudaram: “o pai do Pasquim” e “o último anarquista”. Não era marketing; era biografia.
Quando o jornal fechou, em 1991, terminou o ciclo mais longevo da imprensa alternativa brasileira. Acabou a edição, não a influência. A pegada do Pasquim atravessou gerações. Basta ver o humor político na TV e na internet, as colunas que combinam informação e sarcasmo, os podcasts que tratam a semana com riso e punchline. Muita gente aprendeu com Jaguar a rir sem aliviar o alvo.
Fora do jornal, ele reuniu charges em livros como “Átila, você é bárbaro”, que virou leitura de cabeceira para quem queria entender como o desenho pode dizer o indizível. O traço parecia simples, mas trazia observação, timing e uma ideia por trás — a tríade que separa a charge da piadinha solta.
Vale lembrar o contexto. O AI-5 havia calado vozes e implantado censura prévia. Nesse ambiente, O Pasquim funcionava como válvula de escape e escola de jornalismo. As reportagens, as entrevistas e as capas falavam com o leitor que queria ler política sem mastigar jargão. A combinação de humor, cultura pop e crítica social criou um modelo replicado depois por revistas, jornais, programas e, mais tarde, por sites e newsletters.
O método de Jaguar era direto: observar, cortar o excesso, ir na jugular. Ele enxergava a charge como reportagem de uma imagem só. Por isso seus quadros resistem ao tempo. A lógica da piada nem sempre dependia do fato do dia; dependia da ideia por trás do fato. Esse é o segredo da longevidade.
A lista de colaboradores que cruzaram sua trajetória, e a maneira como a redação do Pasquim mexeu na rotina da imprensa, explicam por que o jornal deixou marcas em áreas distintas. Na música, ampliou o espaço para letristas e compositores falarem de processo criativo e política. No cinema, tratou os filmes como peças de um debate público. No futebol, levou o humor para a crônica esportiva sem perder informação. O leitor passou a esperar esse tom em outros lugares.
A repressão trouxe custos. Prisões, apreensões, cortes de texto, chamadas para “conversas” em gabinetes — nada disso deteve o jornal. Em vez de recuar, a redação reinventava saídas: capas metafóricas, trocadilhos, ironias que driblavam a tesoura. Quem viveu a época lembra de comprar a edição e procurar o subtexto.
Essa experiência moldou gerações. É fácil rastrear a influência em grupos como o Casseta & Planeta, formados por publicações de humor que herdaram a mistura de sátira e reportagem. No jornalismo, o tom desengessado furou a bolha da linguagem tecnocrática. E o leitor, acostumado a ser tratado como adulto, nunca mais aceitou menos que isso.
Jaguar envelheceu sem amaciar a pena. Continuou publicando, organizando coletâneas e desenhando até tarde. Mantinha o prazer do comentário rápido, do desenho que fere com elegância. Para quem acompanhava, havia a sensação de que, enquanto ele estivesse por perto, o mau uso do poder não teria descanso completo.
Ele também virou referência para quem entrou na profissão depois. Cursos de jornalismo e oficinas de quadrinhos usam suas páginas para explicar ritmo, síntese e ponto de vista. A lição é simples: quando a charge é boa, o leitor entende tudo em segundos e continua pensando por horas.
Momentos que ajudam a entender a dimensão do que ficou:
- 1952: estreia na Manchete, com o traço ainda sob influência europeia e o humor já inclinado ao ácido.
- Anos 1960: passagem por Senhor, Civilização Brasileira, Revista da Semana, Pif-Paf, Tribuna da Imprensa e Última Hora; parcerias com Tarso de Castro e Sérgio Cabral.
- 1969: fundação d’O Pasquim com Millôr, Ziraldo e outros; a virada do jornal de bairro para fenômeno nacional.
- Início dos anos 1970: tiragens semanais acima de 200 mil; colisão frontal com a censura e a consagração pública.
- 1970: invasão policial, prisões na redação e a transformação definitiva do jornal em símbolo de resistência.
- 1991: fim do Pasquim após 22 anos; legado consolidado e presença constante de Jaguar do primeiro ao último número.
No recorte pessoal, há a coragem de batizar o jornal com um xingamento e reverter o estigma em marca. Há a parceria com Sérgio Porto no universo FEBEAPÁ, que virou uma bússola para identificar o absurdo institucionalizado. E há a persistência: manter um projeto e um padrão por mais de duas décadas sem ceder ao cansaço ou ao oportunismo.
O humor político brasileiro, antes dele, existia. Depois dele, mudou de escala, de sujeito e de ambição. Ganhou cara, timing e malícia. O Pasquim provou que rir não é fugir do assunto; é uma forma de enfrentá-lo. Jaguar ensinou isso semana após semana.
Com a sua morte, fecha-se uma janela que ajudou o país a se olhar no espelho em tempos difíceis. Ficam as páginas, os livros, as histórias de bastidor e, principalmente, a técnica — essa, transmissível. Quem aprende a desconfiar do pomposo e a rir do autoritário não desaprende. E isso, no Brasil, sempre volta a ser necessário.


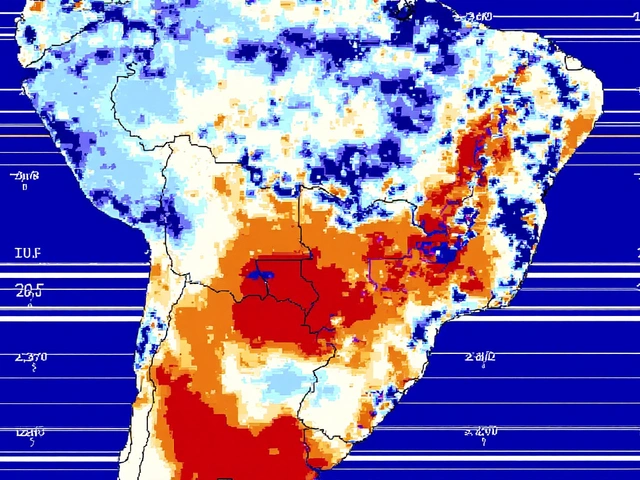

5 Comentários
Mayra Teixeira-26 agosto 2025
Jaguar foi o cara que ensinou a gente que rir da ditadura era o único jeito de sobreviver sem enlouquecer. Ele não só desenhava, ele expunha a verdade com uma linha só. E ainda tem gente que acha que humor não é política? Que nada. Ele era jornalismo com pica-pau.
Francielly Lima-27 agosto 2025
O Pasquim não era só um jornal, era uma resistência estética, uma rejeição radical à linguagem oficial, à retórica do poder, à estética da mentira. Jaguar, com sua economia de traços, compreendia que a charge era o contraponto perfeito ao discurso autoritário: sucinta, implacável, irreverente. E, sim, ele merece ser estudado em todas as faculdades de comunicação, não apenas como ilustrador, mas como pensador crítico.
Wagner Wagão-27 agosto 2025
Lembro de comprar o Pasquim na esquina da minha rua, escondido entre os jornais da família. Meu avô ria até chorar, mas depois guardava a edição como se fosse um documento histórico. Jaguar tinha esse dom: transformar o absurdo em algo que você podia segurar na mão. Ele não só denunciava, ele nos ensinava a ver. E hoje, quando vejo um meme bem feito, eu vejo o fantasma dele sorrindo no canto da tela.
Joseph Fraschetti-28 agosto 2025
O que é que faz uma charge durar 50 anos? Não é o traço, não é o nome. É a ideia por trás. Jaguar sabia que o poder não aguenta riso sincero. Ele só desenhava o que todo mundo sentia, mas ninguém tinha coragem de dizer. E isso, meu irmão, é arte.
Suellen Cook-29 agosto 2025
Se hoje alguém tentar fazer um Pasquim, vai falhar. Porque a geração atual não entende que o humor político precisa de risco, de perigo, de censura real. Não é só ser sarcástico no Instagram. Jaguar arriscou a pele. Hoje, todo mundo é crítico, mas ninguém é corajoso.